Prefácio de Leonel Cosme
IDENTIDADE, PÁTRIA E TERRITÓRIO
Face a este laborioso e estilisticamente
incomum trabalho de Gabriela Costa, que logo de início
me surpreendeu pelos recursos teóricos que o leitor,
induzido pelo título, não esperaria de um testemunho
memorialístico, fortemente cunhado pela historiografia,
eu não me poderia ficar apenas, ainda que concordante,
com estas palavras de Max Webber: "(...) mesmo a visão
unilateral de um acontecimento vale como um
contributo para a compreensão do real".
E por duas razões imediatas: a primeira, porque
não me sendo estranhos os caminhos percorridos pela
autora, em Portugal, Angola e Brasil, estava predisposto
a dispensar quaisquer suportes teóricos (respeitáveis,
com certeza!) avocados para revalidar o posicionamento
tético da memorialista, na medida em que
previsivelmente iriam repetir que os factos não precisam
de ser demonstrados; a segunda razão, porque a "visão"
de Gabriela Costa era igual à de muitos milhares de
portugueses-angolanos "que se viram de repente
desterritorializados e foram em busca de novos rumos,
de um novo chão, de uma nova utopia", donde a sua
história "acaba por ser o eco de uma história coletiva
que diferentes narradores contaram/contam de uma
maneira ou de outra, ou simplesmente guardaram na
gaveta das suas memórias".
E nesse entendimento, "uma história que faz
parte da História e sem a qual ela (a História) não pode
mais passar", conquanto particularizada, no seu caso,
como uma "história costurada num tempo sem datas,
tecida com lembranças que (a) deixam
perpendicularmente presa às linhas curvas de um
passado que (tenta) resgatar através da memória
reavivada na e pela literatura, tendo como pano de
fundo os romances Viva o povo brasileiro (1984), de
João Ubaldo Ribeiro, e Lueji: o nascimento dum
império (1989), de Pepetela".
E diz o porquê: "A narrativa de Pepetela
permite-me navegar nas águas da memória e ir em
busca de um tempo perdido lá onde o sol se põe atrás do
mar. A de João Ubaldo presentifica a minha realidade no
porto que me serviu de abrigo ao fim de uma travessia
atlântica, e no qual procuro refazer e repensar as
experiências do passado", para dramaticamente
justificar: "Eu precisei de me sentir 'sem pátria e sem
mátria' para ir em busca dos meus pedaços
geograficamente espalhados, para com eles montar o
puzzle da minha identidade, no meu chão de abrigo.
Afinal, e de acordo com Deleuze e Guattari, a busca da
identidade deve ser concebida e aceita como processo,
em permanente estado de deslocamento, como travessia,
como formação descontínua construída através de
sucessivos processos de desterritorialização e de
reterritorialização".
O drama da "travessia" entre as duas margens
do Atlântico da hoje luso-angolana-brasileira Gabriela
Costa é, enquanto "viagem" no rio contínuo da História,
semelhante ao de meio milhão de ex-colonos
portugueses, já filhos naturais ou adotivos da África,
pressionados, pelas convulsões finais do processo da
independência, a procurarem, longe, um "ancoradouro"
ou "porto de abrigo" onde pudessem provisoriamente
aquietar as almas ou, mais do que um providencial
paliativo, encontrar um "chão seguro" para onde
poderiam esperançosamente transferir as suas raízes de
árvores arrancadas do chão original ou também já
escolhido, sendo mátria de uns e pátria de outros. E não
é esta a força-motriz que anima todos os emigrantes,
expulsos ou desencantados do chão natal?
Mas outras interrogações analogicamente se
perfilam em forma de metáfora: podem as árvores já
adultas ser transplantadas sem risco de vida ou de
natureza? E se sobreviverem, manterão ou não as
qualidades primigénias que lhes conferiram uma dada
característica ou identidade?
Pessoalmente, não sendo ecologista, tenho
verificado que existem algumas árvores que aceitam a
transplantação, e outras não. Se o condicionalismo
resulta da capacidade de adaptação, intrínseca à
natureza da espécie, ou das propriedades do chão onde
mergulham as raízes é, para mim, ainda um mistério.
Mas já verifiquei também que há árvores que permitem
a enxertia, face à qual o tronco original se comporta de
duas maneiras: umas vezes anula-se, em favor do
"garfo" que lhe é imposto; outras vezes aceita a
imposição, porém sujeitando-se à "mistura" dos genes,
do que resulta que nenhuma das partes manterá a pureza
original.
Também como "árvore humana", Gabriela
Costa se imagina (sente) como um ser compósito: "(...)
me fui construindo como sujeito cultural híbrido,
buscando dialogar com os meus eus, sentindo que
pertencia aos dois mundos, sem ser totalmente de um ou
de outro. E se a Europa me viu nascer e a África me
ensinou a viver, hoje, neste outro continente que já faz
parte da geografia da minha identidade, sou Arlequim
com/sem manto, guardo em mim a brancura inefável do
Pierrot, sou o uno e o diverso e posso afirmar com
Michel Serres (...): ‘por isso, quem sou desde logo se
exprime sem dificuldade: uma mistura, uma confusão
bem ou mal temperada, exatamente um temperamento’"
- qual uma "árvore" (um tronco) com vários
"enxertos"... Igual ductilidade não possuía, mau grado
seu, outra expatriada de Angola, a poeta Amélia Veiga,
também nascida em Portugal, que no seu livro As
lágrimas da memória (2006) ainda chora, retornada ao
país natal: "Eu não sou de cá/E nunca fui de lá!".
Já Gabriela Costa porfia libertar-se das
angústias do desenraizamento avocando contributos de
pensadores e sábios de nomeada e usando um discurso
que é ao mesmo tempo académico e literário (ou não
fosse ela professora universitária de literatura). Assim
consegue administrar os concursos da ciência e da
poética como um "cântico" cujo mote é o (saudoso)
tempo perdido, o direito de sonhar, a utopia, enfim -
mas numa decidida oposição ao "sonho noturno" que,
no dizer de Bloch, por ela citado, "teima
obsessivamente em olhar para trás, melancolicamente
contemplando ruínas".
Se o verso de Manuel Alegre que ela recolhe
para epígrafe do seu trabalho já desvela uma pista para a
matéria tão sensível que vai abordar,
Canto a raiz do espaço na raiz
do tempo e os passos por andar nos passos
caminhados...
logo adiante qualquer ambiguidade se desvanece: "Vim
do outro lado do mar hesitante, temerosa, mas ao
mesmo tempo, e paradoxalmente, confiante. Nas malas
vazias de sonhos lá longe perdidos, as recordações,
mantidas à força de as retocar e rearrumar nas
prateleiras da memória livres da poeira do tempo,
projetam-se sucessivas na tela das minhas esperanças,
ansiosas por um recomeçar".
Como é tão diferente esta "viagem" da que fez
Álvaro de Campos/Fernando Pessoa entre Beja e Lisboa!
Não trago nada e não acharei nada.
Tenho o cansaço antecipado do que não
acharei,
E a saudade que sinto não é nem no passado
nem no futuro.
Deixo escrita neste livro a imagem do meu
desígnio morto:
Fui, como ervas, e não me arrancaram.
Significativamente, Gabriela Costa não
confunde "os sonhos lá longe perdidos" (quais os duma
infância e juventude felizes) com um proustiano "tempo
perdido" ou um miltoniano "paraíso perdido". Na
verdade, todos os tempos, espaços e caminhadas lhe
foram propícios e plenos em África (ou o seu "paraíso
perdido"), onde não havia razão nem lugar para uma
almejada Utopia ("o que não está em lugar nenhum!"),
qualquer que fosse a sua representação onírica: a de
Thomas More, de Tommaso Campanella, de Francis
Bacon ou a do procurado paraíso terreal da navegação
de São Brandão - porque em Angola, ela, assumida
caminheira, já tinha descoberto a "terra da promissão"
que não era mais uma desiderativa transposição do real
para o mítico-visionário, perante o que teria de
confessar, no fim, como sonhador da Utopia: "Desejo-o
mais do que espero". Em Angola, ela encontrara o que
desejava para ser feliz.
Sem angústias existenciais, mas não voltando as
costas à complexidade da reterritorialização do ser
humano (um biologista talvez acrescentasse: e de outros
animais...) e ao aventar um sentido de pertença que pode
coincidir ou não com o da identidade, Gabriela
"resolve" o dilema, como o faria um positivista não
dogmático, encarando uma "construção identitária com
vistas à felicidade".
Desta construção, não exclui as "marcas" dos
tempos e dos espaços vivenciados (Santo Agostinho
disse que "o tempo é o espaço onde decorrem as
coisas"): fixando a sua atual "porção de identidade
brasileira", não separa do esforço ou contingência da
reterritorialização as "porções" do tempo em que "a sua
angolanidade falava mais alto do que a sua origem no
lado de lá do Atlântico", parecendo que nesta
consubstanciação o vínculo à raiz primigénia é o
elemento mais frágil ou de menor consistência. Tal é a
ideia que dá a referência à conhecida (quanto truncada)
afirmação de Bernardo Soares/Fernando Pessoa:
"Minha pátria é a língua portuguesa", pois surge
extrapolada de um contexto em que a frase é tão pouco
axiomática como duvidosa é a displicência patriótica do
resto da afirmação: "Nada me pesaria que invadissem
ou doassem Portugal, desde que não me incomodasse
pessoalmente". Diga-se que o heterónimo guarda-livros
Soares finge de um "despatriado" que seria abominável
para o épico Pessoa da Mensagem...
Ora, nem mesmo a língua-mater é, por si só,
determinante de uma identidade nacional pelo sentido
de pertença que se supõe imanente - o que para
Agostinho da Silva (que porventura terá amado tanto o
Brasil como amava Portugal, o que não é de espantar
porque o Brasil é o único país, além de Portugal, onde
um português não se sente estrangeiro) parece linear
quando considera que "a nossa pátria é o sítio onde
nascemos", sem a abrangência da conhecidíssima
locução latina: ubi bene, ibi patria (onde se está bem é a
nossa pátria)...
Por outro lado, não é indispensável uma língua
(escrita ou falada) para que se gere o sentido de pertença:
tem-no até um cão ou um gato; tem-no o "menino
selvagem" que, de tempos a tempos, continua a emergir
dos recônditos das florestas, onde ganhou a primeira
consciência de si e que só se modifica quando,
transposto para o mundo dos falantes, adquire uma
segunda consciência, produtora de outra identidade que
não se sabe até que ponto se torna única, osmótica ou
reversiva...
É um facto que se pode amar uma terra sem ser
filho dela e ter uma identidade nacional sem amor à
pátria. Mas o alto sentido de pertença que se assume por
amor ou patriotismo e verdadeiramente define uma
identidade só existe quando, num território herdado,
conquistado ou consentido, não se é discriminado por
causas como o local de nascença, a cor da pele, o
estatuto social ou a religião, nem se ouve dizer "tu não
és daqui" e se sente que daquele território nunca se será
expulso.
Gabriela Costa, com o seu testemunho extraído
de três vivências justapostas, sugere-nos que o espírito é
transfigurável (um materialista dialético diria mesmo
que são as condições materiais que determinam a
consciência) e o homem, o único a ser capaz de se
reinventar para vencer as "travessias" dos mares e das
florestas da vida.
Afinal, é isto que nos comunica, na sua obra
Entre dois universos (Guimarães Editores, Lisboa, 1959)
um sábio caminheiro chamado Fidelino de Figueiredo,
que também "atravessou" o Atlântico para estanciar no
Brasil, onde, na Universidade de São Paulo, inspirou
uma plêiade de discípulos e admiradores como Soares
Amora, Cleonice Berardinelli, Segismundo Spina e
Massaud Moisés:
Filosofias, religiões e artes são aspectos
peculiares de cada cultura, não frias e
laboriosas construções da razão, têm suas raízes
num clima cultural, como a fauna e a flora.
Também a vida individual toma conta da forma
que dentro desse clima único lhe determinam o
temperamento e o caráter. Também numa
floresta não há duas árvores iguais.
Certo é que umas resistem às tempestades e
queimadas, e outras não. Apenas um clima tropical
poderia produzir uma "árvore" resistente e
transplantável como a protagonista desta narrativa
incomum - que é simultaneamente ensaio, memória e
poesia -, na qual também se poderia averbar que, em
última análise, a nossa verdadeira pátria é a terra onde
desejaríamos ser sepultados. Se esta coincidir com a
terra onde nascemos ou fomos felizes e que, contra a
nossa vontade, tivemos de largar, então os versos que
talvez mais se ajustariam ao termo da "viagem" de
Gabriela Costa seriam estes do poeta colombiano
Manuel Mejia Vallejo, extraídos de um bilhete-postal
que me enviou do Brasil outro "navegador" luso-
angolano que, naquela margem do Atlântico, ainda não
tinha conseguido refigurar a memória do "tempo
perdido" na outra margem do rio da História:
Si camino siempre hacia adelante,
Un dia llegaré
Al punto de partida.
Asi he sabido que todo
Camino del hombre
Es camino de regreso.
|










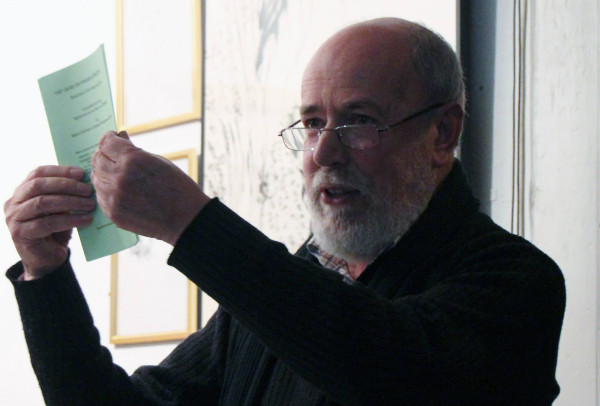











 LIVROS DISCOS LIVROS DISCOS LIVROS DISCOS LIVROS DISCOS LIVROS DISCOS LIVROS DISCOS
LIVROS DISCOS LIVROS DISCOS LIVROS DISCOS LIVROS DISCOS LIVROS DISCOS LIVROS DISCOS